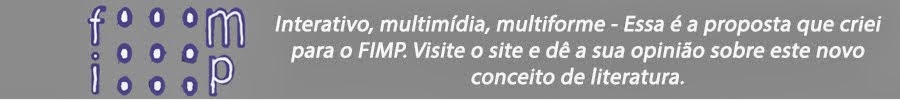|
| Joseph Conrad - O Coração das Trevas |
Conheci Conrad através de Nostromo, que considero imbatível. Coração das Trevas, veio por consequência. Os parágrafos do livro, principalmente os ligados ao rio, tornaram-se, com o tempo, inspiração.
"O estuário do Tamisa rasgava-se como a boca de um canal interminável. Céu e mar uniam-se ao largo, sem traço de separação, e as velas crestadas das barcaças, a subirem com a maré, pareciam imobilizar-se no espaço luminoso como fardos de lona muito tensa, vermelhos, onde luzia o verniz dos mastros.
As margens baixas corriam para o mar e sobre elas carregava uma névoa diluída na planura. O ar estava sombrio acima de Gravesend, e mais longe parecia condensar-se numa treva desolada que pesava, imóvel, sobre a mais vasta e grandiosa cidade do mundo."
Foi o Marquinhos, um fanático por Coppola, que me levou a ver o filme que ele achava o maior de todos os tempos. Entrei na sala contrariado, com pressa, pois estava preocupado com uma situação que estava a acontecer fora do cinema. Procurei a fila onde eu pudesse esticar as pernas e sentei na poltrona mais confortável, sob os protestos do funcionário do cinema que dizia que ali não era o lugar que estava marcado no meu bilhete. Como o filme estava para começar, ele recuou...
"Is this the end, beaultiful friend, the end..."
Esse filme não podia começar de forma pior. Doors! Só que o Jim Morrison cantava daquela vez com um tom diferente. Que música era aquela que entrava pelo meu ouvido como um sussurro de um morto que prevê a minha própria morte? O ventilador espalhando ar quente pelo quarto, o capitão sangrando, a guerra, a impotência, a solidão, em poucos segundos eu fazia parte do filme, primeiro na pele do capitão que teve a estranha missão de matar um coronel que se voltou contra o seu país ou contra as estruturas da guerra ou mais profundamente, contra os objetivos da guerra, depois como um mero soldado coadjuvante navegando nas águas do rio junto com os jovens soldados que acompanhavam o capitão...
"No encalço dos burros vinha um conflituoso bando de negros lamurientos com os pés magoados; uma porção de barracas, cadeiras de campanha, malas de ferro, caixas brancas e trouxas castanhas foi atirada para o chão do cercado, reforçando o mistério do caos daquele posto. Chegaram cinco carregamentos, todos com o mesmo absurdo ar de fuga depois de um saque de lojas e armazéns, ao ponto de parecer que transportavam para a selva um espólio destinado a divisão equitativa."
No escuro, virava a cabeça e olhava para as pessoas que observavam o filme e não via ninguém me olhando. As pipocas estavam uma delícia. O vício que herdei da minha mãe de comer pipoca numa velocidade alucinante, foi multiplicado por dez por causa daqueles copos gigantes ao meu colo e a fome que apertava o estômago. Cada pipoca que mastigava parecia uma bala que explodia. A cada pipoca que comia virava para trás para ver se incomodava as pessoas por causa do barulho. E aí veio aquele som de Wagner que já conhecia de um comercial de TV. Sempre me imaginei a escutar aquela música como trilha sonora de um momento feliz, numa excursão por alguma cidade da Grécia, num ambiente familiar, mas nunca poderia imaginar escutá-la naquele contexto: guerra, fogo, pó, loucura, luzes, muitas luzes. Os parágrafos do livro começaram a vir à catadupa...
"Andávamos às curvas, a dez pés da margem. Tive de inclinar-me para fora, afim de rodar a portada, e entre a folhagem vi um rosto ao nível do meu, a fixar-me com ferocidade, e de repente, como um véu que aos meus olhos se abrisse, distingui peitos, braços, pernas nuas e um luzir de olhos no fundo da complicada sombra - o mato a formigar de membros humanos que se moviam polidos, cor de bronze. Os ramos abanavam, sacudiam-se e estalavam, as flechas levantavam voo e a portada da janela lá se fechou.
Não conseguia parar de pensar no livro. Iria enlouquecer, por isso levantei-me para comprar mais pipocas (já tinha devorado as que comprei). Afastei-me facilmente das poltronas que me comprimiam e deixei o copo de Coca-Cola no reservatório da poltrona esperando por mim. Atravessei o cinema debaixo de fogo, que eu sabia que vinha da tela, mas que me assustava mesmo assim. Comprei mais dois copos de pipoca gigantes. Corri com os copos de pipoca para dentro do cinema novamente e sentei na primeira poltrona vaga que vi, longe da entrada.
"I can get no, satisfaction"
cantava um rio pintado de vermelho ao fundo da tela, para o delírio do homem que sentava ao meu lado. Essa música eu conheço, quem não conhece? Devorei a pipoca dos dois copos enquanto prestava atenção ao corredor do cinema para ver se alguém estava passando mal. Comecei a ficar com sede. Levantei e fui à procura do meu copo de Coca-Cola que deixei na minha primeira poltrona que sentei. Estava muito escuro e não conseguia achar o lugar. Nessa altura, andava de fileira em fileira à procura do meu copo. Sentei imediatamente na primeira poltrona vazia que vi. Com a lanterna, o funcionário do cinema indicou onde eu me encontrava pela primeira vez quando me sentei. Agradeci e voltei para o meu lugar onde eu podia esticar as minhas pernas perfeitamente. A música recomeçou. Aquela música assustadora do início. Aquela música me transmitia uma sensação angustiante. Por que colocaram essa música no filme? Um homem todo pintado surgiu do nada empunhando uma espada de sabre e decapitou um homem gordo, que parecia ser aquele coronel rebelde. Ao mesmo tempo sangravam um boi da forma mais horrenda possível. E a música continuava. Por que não desligavam os auto-falantes? O nervoso era tão grande que amassei o copo de Coca-Cola (que estava pela metade) com as mãos, molhando a senhora que estava ao meu lado. Ela reclamou. Lá vinha Conrad...
Eu nunca tinha visto, nem espero tornar a ver, coisa parecida com a transformação que se dera nos seus traços. Não, emocionado eu não estava. Estava fascinado. Como se um véu se tivesse rasgado. No marfim daquele rosto vi uma expressão de orgulho sombrio, indomável poder, de abjecto terror - de um desespero intenso e sem esperança. Naquele supremo instante, de integral conhecimento, estaria ele a reviver a vida em todo o pormenor, com os seus desejos, tentações e renúncias? Deu um grito sussurrado a uma imagem qualquer, a uma visão qualquer - gritou duas vezes, um grito que não passava de sopro... "O horror! O horror!"
E eu só escutava uma voz surgindo de todos os lados: "horror!", "horror!", "horror!", o homem pintado, a escuridão – maldita hora que entrei nesse cinema!